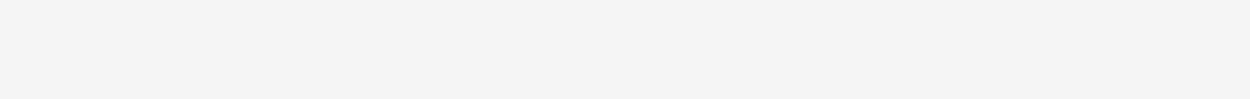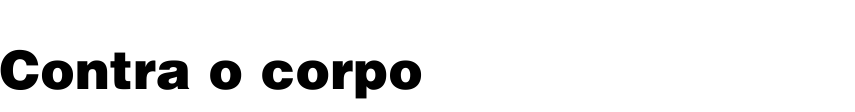AUTOR: IVO MARTINS
EDIÇÃO: Revista Acto #9 DATA: Maio de 2009
Escrever sobre o corpo é como falar sobre um deserto, sentir uma terra ainda por terminar, sem localizações
definitivas e sobre a qual podemos realizar as mais variadas auto-criações. Esse deserto é uma superfície em
mutação, onde cada passo se apaga e, por isso mesmo, não é possível descobrir nele qualquer tipo de identidade.
Uma estratégia de abordagem ao nosso corpo, seria reduzi-lo à figura de um inimigo - uma armadilha biológica
que nos mata. O inimigo serve, no sentido de Lacan, de point de capiton (ponto de acolchoamento)do nosso
espaço ideológico, permitindo unificar a multidão de adversários reais com os quais interagimos nas nossas lutas.
Assim, se queremos deixar inscritas sobre o corpo as nossas ideias - consequência tardia do confronto nascido da
incapacidade de sermos em simultâneo observadores e observados - nada melhor do que aprender na análise da
morte, aquilo que nos faz olhar para o corpo da mesma forma como se observam tropas de assalto.
Na guerra todos os lugares têm de ser conquistados, desde que possuam um valor estratégico capaz de fazer
alcançar a vitória. Os conflitos armados não obrigam os soldados a questionar-se sobre o que vai acontecer, nem
sobre se devem ser relacionadas as nossas acções com a impossibilidade de se estabelecerem definições sérias
acerca do que é o bem ou o mal. Nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, Ernst Jünger já havia celebrado o
combate corpo a corpo, transformando-o num verdadeiro encontro intersubjectivo, um momento de
autenticidade que residia num acto violentamente transgressor, tal como o real lacaniano - essa coisa que
Antígona enfrenta quando decide transgredir as leis da cidade - ou como o excesso em Bataille.
O preço a pagar pela normalização uniformizadora da visão sobre o corpo implica uma evidente mudança na
figura do nosso inimigo; já não se trata de enfrentar o império do mal, mas de aguentar o confronto numa
configuração psicológica onde a lei reguladora das relações entre os estados não tem utilidade. Estamos em luta
com o corpo, situado na proximidade de um desmoronamento total, como um mundo em crise por causas que
nos são parcialmente alheias. Esta luta oprime e influencia todas as nossas acções. Buscamos processos de
anulação sobre as emoções, para viabilizarmos os inúmeros conflitos físicos e mentais que a nos sujeitam e nos
submetem. Ser capaz de agir negativamente contra a integridade de cada indivíduo, numa acção desintegradora
sobre o seu corpo, afecta também o próprio autor que se destrói juntamente com todos os outros corpos. A
violência fundamentalista tem o propósito de nos abrir os olhos, para nos curar da nossa insensibilidade
ideológica e do nosso condicionamento consumista. Só intervenções violentas e directas podem realizar a função
de nos acordar e de combater a angústia existencial do indivíduo cuja sensação de não existir é evidente.
A experiência do corpo é trágica e traumática por natureza. Quando se observa na sua versão pós-moderna, o
corpo revela uma forma ainda mais desmaterializada. O espaço aberto e afastado do real surge como algo capaz
de suportar todo o tipo de teatralização e de agressões, onde é possível reinventarmo-nos de um modo imaterial,
em utilizações de objectos destinados a serem apenas visionados ou destruídos, procurando evitar o completo
colapso psíquico dos sujeitos. Estes adereços procuram encontrar uma fórmula objectiva e efémera de atrair
atenções. São produtos que se confundem com os corpos e fornecem, transitoriamente, uma ideia apaziguadora
de perfeição. Através de sucessivas projecções numa cadeia de imagens audiovisuais, os corpos são
transformados em encarnações utópicas, fac-similes para uma visão ideal de beleza e de bem-estar, associados de
um modo subliminar à torrente da propaganda oficial. As actuações destrutivas sobre o corpo são vividas como
provas de autenticidade e procuram pôr fim a um estado de dormência social.
Depois do heroísmo estético do séc. XX que reivindicava para si a capacidade de suportar toda a carga de solidão
corajosa e absurda atribuída por cada pessoa ao seu próprio corpo, entramos num novo sentido do heróico
encarnado no homem vulgar, visto como o comum dos mortais. Os heróis de outrora suportavam um destino
universal e por isso eram poderosamente humanos. Agora aparecem-nos outros tipos de heroísmo, expostos
naqueles que não dão ao corpo a prova última da sua autenticidade redentora, deixando de sofrer nele tudo o
que fizeram. Atingimos um estádio de concessão, de afrouxamento radical em relação a essa concepção antiga.
Perdemos a sobreposição do corpo como grande centro de uma solidão heróica, para o substituirmos por uma
ideia de par - um corpo que se acompanha por outros corpos - o que na óptica de Peter Sloterdijk, acaba por
constituir uma forma mais interessante e mais prática de se olhar para o nosso herói contemporâneo, deixando
de ver nele a parte dos gloriosos feitos do velho dissidente solitário. Há, nesta nova visão do homem, uma
dispersão, uma perda de unidade agora expressa na existência de um duplo ou de um sósia, um múltiplo retirado
da sua figura original como se fosse outra imagem sua semelhante. No passado o corpo estava embrenhado
reflexivamente na sua íntima destruição e era, por isso, uma totalidade solitária e sacrificial. O corpo do herói
actual está circunscrito a um novo espaço bipolar, evidenciado na reflexão de um espelho sobreposto em
imagens. Os homens reflectem espectros que se confundem com o seu par. Este novo ser ambivalente, clone e
ambidestro, move-se de um modo oportunista por todo o tipo de cenário, realizando o seu trabalho de construção
parasitária e usando indiscriminadamente todo o género de adereços e disfarces. As pessoas vivem um processo
de união e de separação entre coisas, propiciando metamorfoses, alterações e correcções, acompanhadas por
intervenções curativas e agressoras que já não exercem nenhum fascínio, como acontecia no passado. Os corpos
continuam a ser, ainda hoje, superfícies de idealização, cada vez mais dessacralizados e desprotegidos, através
dos quais podemos exprimir as nossas visões utilitárias e pragmáticas, afastadas do antigo conceito de
heroicidade associado a um estado de profunda reflexão ética. O terrorismo fundamentalista encarna todas estas
mudanças, como forma modificada da velha luta pela sobrevivência, com base em imagens antigas recicladas,
modelos transformados e mais recentes de um culto de heroicidade, simultaneamente acto e desaparecimento,
tornando-se difícil apagá-lo das nossas memórias.
Os antigos heróis eram reconhecidos na grandeza dos trabalhos que realizavam. Eram figuras capazes de fazer
coisas sobre-humanas, o que os tornava seres ímpares e universais, homens possuidores de um conteúdo
atractivo e comovedor, particularmente grandioso. Recorda-se agora com tristeza e saúde os que se lançavam
contra os moinhos de vento, com o seu corpo contraído, fugidio e inseguro, como se fossem um produto belo e
silencioso do declínio do homem ocidental. Eram figuras expostas e humildes onde o pensamento se ampliava e
simultaneamente mutilava-se enquanto as nossas acções se sucediam e se estimulavam, limitando-nos.
Hoje fala-se de uma boa disciplina corporal, como se este conceito estivesse encarnado no treino colectivo, no
jogging e no culturismo. Todas estas actividades participam no mito New Age do novo herói, dominadas pela
economia subjectiva e prisioneira da realização das suas próprias potencialidades. Não é de surpreender esta
obsessão por um certo tipo de corpo indissociável da passagem e adesão a sentimentos radicais; faz parte de uma
parcela de indivíduos orientados para as ideologias de esquerda. A nova fase a que se chama «idade da
maturidade» na política pragmática pós-moderna, realiza-se através de uma recentragem sobre o tratamento e o
reajustamento dos critérios estéticos do corpo de cada um, numa reorientação das energias do desejo de e
alteração do meio onde existimos.
Actualmente o corpo amontoa-se numa imensa pilha de material biológico descoberta desde o princípio do
século XX. Podemos apelidar estes conglomerados biológicos de “corpos sem órgãos”, novas superfícies humanas
redimensionadas em tamanho real, como se fossem pequenos paraísos existenciais no deserto de uma
normalidade terrena. A genética introduziu renovados complexos corpóreos, assemelhando-os a velhos hangares
de acumulação de materiais, cofres-fortes dos grandes patrimónios hereditários de uma humanidade
necessitada, que precisa de ser protegida de todas as actividades destrutivas levadas a efeito pelas sociedades
produtivas.
A arte assume também aqui um curioso papel, transformando os corpos em locais de aplicação e de exposição de
adereços inventados pelo homem. O corpo sujeita-se a sucessivas alterações, realizadas a partir de um objecto
sexual, dominado pela actuação criativa e comercial, que nos faz penetrar num novo território, onde poderemos
reinvestir as nossas energias. Somos pequenos accionistas de um grande mercado organizado de acordo com a
necessidade de se atingir a maximização das vantagens sobre todos os nossos desejos, de forma a alcançarmos
um limite próximo de um estado final e definitivo de felicidade. A história teria parado no momento em que nos
tivéssemos encontrado na posse de demasiados objectos sobre a perfeição corporal. A marca derradeira desse
momento último, no qual o homem reencontraria o paraíso, é uma ideia publicitária, que se move discretamente
por todos os lugares do mundo.
Os corpos estão em confronto uns com os outros nos territórios que excedem a sua capacidade populacional.
Onde se acumulam pessoas e cresce a concorrência entre elas. As superfícies urbanas saturadas movem-se em
locais que adquirem uma manifesta tendência competitiva e agressora, assumindo o ritmo avassalador de uma
luta e de um confronto selectivo, por meio do qual as inúmeras coreografias humanas mostram corpos vitoriosos
de forma ostensiva e provocatória. As suas linguagens e poses contrastam com a banalidade das nossas
ocupações e com as práticas mais entediantes do nosso dia-a-dia. A matéria corpórea torna-se algo de
extremamente corruptível e imperfeito. Só uma apurada técnica de manipulação visual consegue anular essa
evidência. Desviado constantemente do grande acontecimento da sua morte, o corpo moderno, é um
produtor/soldado, segundo Zygmunt Bauman, enquadrado disciplinarmente por forças de violência ambiental,
manipulado e posto em movimento regular, como sucedia na linha de montagem “taylorista”. Este corpo
aparece-nos agora no meio de um quadro de dispositivos engenhosamente elaborados, industrialmente
concebidos, cientificamente dispostos, cuja contribuição exige dele a capacidade de reunir a força interior
necessária para responder com prontidão aos estímulos solicitados, fazendo-o com o devido vigor. Esta
capacidade de agir chama-se «saúde» e a denominação «doença» designa simetricamente a incapacidade de se
dar essa resposta.
Todo o consumo tido por necessário visa assegurar a manutenção da saúde assim concebida. A alimentação
cuidada prescreve a ingestão de todos os produtos necessários, em quantidades precisas, de maneira a
fornecerem uma energia muscular suficiente para se cumprirem as exigências da fábrica e do serviço militar. O
que excede esses valores numericamente estabelecidos em tabelas dietéticas e em protocolos científicos
oficialmente aprovados é considerado um luxo e um sinal de relaxamento, no caso de ser consumido, ou de
prudência, no caso de ser poupado ou reinvestido. O corpo passa agora a ser um lugar cumulativo para vários
tipos de gestão, constantemente actualizada. Medir as sensações absorvidas, digerir as suas experiências, testar a
sua capacidade de ser estimulado, torna-o um instrumento sensível de prazer ou de sofrimento. Sujeito a uma
exploração produtiva e pronto a ser rentabilizado como máquina, o corpo está a ser transformado num
subproduto social que deverá saber dar resposta às inúmeras requisições da globalização da produção e da
guerra. A chamada forma tem equivalência no corpo, o qual passou a caminhar inversamente em relação à sua
natureza; «a quebra de forma» significará inércia, apatia, falta de energia, abatimento, uma resposta desatenta
aos estímulos - uma capacidade e/ou um interesse, decrescente ou simplesmente «abaixo da média», referida
pelas novas sensações e pelas novas experiências impostas por uma lógica de mercado.
Neste momento percebemos como o corpo está a ser sistematicamente desviado e alterado por novas
estruturações significantes, levadas a efeito através de organizações contemporâneas de trabalho e lazer,
surgindo inserido em estranhas formas de organização económica, social e política. O homem submeteu-se a
medições e quantificações intensivas, afectado por confusos conceitos de doença e de saúde, replicados sobre um
indivíduo cada vez mais ambivalente nas suas representações. Ao afastar-se da sua natureza primeva, o homem
transformou o mundo num escaparate de modelos humanos onde só se admitem corpos progressivamente
alterados. Este desfasamento relativo à natureza admite a possibilidade de se encontrarem todo o tipo de
mutilados e seres corrigidos, gente física e psicologicamente (in)capacitada, pessoas recicladas e adulteradas que
representam arquetípicos das inúmeras personagens e avatares eleitos pelas imensas maiorias. O desvio daqui
resultante, propícia a intervenção de entidades superintendentes das nossas actividades de cura e de
remodelação, desenvolvendo complexas estruturas de organização sanitária e securitária, que recorre a
panóplias de instrumentação transformadora para multiplicar os elementos de controlo em abordagens futuras.
A humanidade passou a desregular-se sobre o seu próprio espaço corporal e o corpo está sempre a ser
reconstruído em novos modelos pós-históricos. Há uma atitude irracional de aceitabilidade sobre tudo isto. Ao
começamos a existir como algo para além do nosso horizonte de entendimento e onde não nos identificamos com
homens capazes de nos fornecerem referências, o corpo passará a ser um lugar onde não nos é permitido viver.
Ao manifestarmos uma ideia de perfeição exposta na ampliação e no alargamento dos numerosos processos de
cura, deparamo-nos com uma situação que não se detecta nos animais. Ao aceitarmos todas as nossas aplicações
e prefigurações curativas, acumuladas nos processos de mudança, mantemos, pura e simplesmente, o corpo em
forma. Permanecer neste estado de acordo significa mantê-lo disponível para absorver e reagir a todos os
estímulos endereçados pelo mercado, numa conjuntura onde não há um interior ou um exterior posicionado
sobre um conceito de humanidade. O detentor de um corpo em guerra com o meio e consigo próprio, faz com que
surja um indivíduo em permanente recuperação e permanentemente infiltrado por uma imagem de corpo sem
limites fixos nem contornos nítidos, alojando-se nele um assustador limbo biológico, ultrapassado
sucessivamente como modo de existência.
Se habitamos o corpo, habituamo-nos; se migramos, desabituamo-nos; se desenvolvemos uma conexão entre
homem e mundo, isso revelará inúmeras situações difíceis de solucionar. Já não nos basta sermos aqueles que
desconhecem o seu lugar, o seu próprio rosto e o seu próprio corpo. Agora sabemos também que os nossos corpos
vão continuar a ser necessários para reiterar todas as formas de poder político, na adopção de um sistema de
dominação, organizado num mundo supervisionado.
Quando o corpo passou a ser redimensionado numa entidade solitária, secular e individual, o seu detentor
transformou-se num espaço aberto para as acções sociais do mercado, da política e da religião. O corpo
encontra-se sujeito a inúmeras actividades expandidas por entre outras coisas mais ou menos mundanas, em
novas formas de marketing e em convites de adesão a novas aparências. Neste contexto, a saúde tem um
importante papel, considerada como actividade fundamental no meio social onde vivemos. O Estado moderno
tem incrementado um subproduto higienista de corpo, um organismo sem doença, uma reconstrução a partir da
metáfora do bem-estar, agora renegociada constantemente. Esse bem-estar parece justificar todas as manobras
de corrupção - actos que se assumem de uma forma impoluta sobre o negócio do nosso corpo. Tudo surge no
seguimento dos novos avanços tecnológicos e na capacidade de nos alienarmos e de perdermos a nossa
consciência. Todos querem encontrar um lugar seguro ilusório, para aí se aliviarem do seu medo, reduzido a uma
mera questão de mercado. Tudo parece ser permitido desde que continuemos prisioneiros dos compromissos de
consumidor e não actuemos de forma crítica sobre as nossas obrigações e deveres. O desenvolvimento da
distância de todos os problemas resultantes das imposições morais que cada acção autoriza, afasta o corpo das
organizações pós-modernas, das acções pessoalmente desempenhadas. As pessoas actuam através de uma forma
intermédia, na qual cada actor passou a estar incluído naquilo a que Stanley Milgran chamou de “estado de
execução”.
Já não se pode criar o mais pequeno sentimento de autoria em relação aos resultados finais dos nossos actos
porque vivemos num contexto organizacional globalizado onde cada autor é o executante de uma ordem e o
emissor de uma outra. Esta realidade facilita a desmoralização do corpo, representado através de uma imensa
cadeia de agentes, na qual é impossível detectar um único responsável. O peso da máquina burocrática não
permite a ninguém ser inequivocamente indicado como elo suficiente e decisivo na concepção, nas consequências
e na produção dos seus actos. Tal como em Medeia, a imagem do corpo desintegra-se e, simultaneamente, a
sociedade vai destruindo-se numa rede imensa de seres anónimos. Os esquizofrénicos sofrem da desintegração do
seu eu, relacionado com a deterioração da percepção das suas formas. Nas organizações actuais os corpos
desintegram-se num estado de falta de percepção colectiva, provocado pela distância entre os indivíduos e pela
ausência de identificação individual, quando situados na imensa rede de contactos que lhes é imposta. O corpo
vai passando a estar acompanhado por um alargado regime de impunidade, uma dispensa sumaríssima, uma
espécie de degredo, no qual sentimos estar isolados e desobrigados de qualquer tipo de avaliação sobre as
consequências dos nossos actos. Estamos sujeitos a uma imposição técnico-profissional, admitindo-se todo o
género de intervenção hierárquica e dominadora. A fragmentação dos actores reproduz a fragmentação dos seus
corpos. Analisadas e divididas em estatísticas, fraccionadas e fracturadas por tipologias e alinhadas e separadas
por qualidades e números, impedem-se as pessoas de serem consideradas completas, portadoras de um sentido
moral único e individual. O corpo está abandonado às tarefas de uma sobrevivência colectivizada e impotente,
prefigurado no meio da fragmentação do mundo à sua volta e de uma relação de apropriação a partir dos
objectos, entre os quais ele é apenas uma parte. A porção aniquilada de cada corpo, vai sendo obrigada a
participar nas sucessivas divisões do espaço, em partilhas verticais e horizontais executadas num complexo
conjunto de operações económicas, políticas e sociais. A superfície corporal representa uma estratificação
multifuncional e especializada da divisão sucessiva de muitas actividades, tal como o imenso terreno exterior do
mercado onde está inserido. “A modernidade não tornou as pessoas mais cruéis; inventou simplesmente uma
maneira de as coisas cruéis poderem passar a ser feitas por pessoas não cruéis”.
O novo modelo de conhecimento especialista facilitou o avanço grandioso da propaganda científica e o esplendor
das manifestações visuais, concentradas agora no espectáculo maravilhoso do funcionamento das novas
tecnologias. Verifica-se uma substituição na eliminação do conceito racista pós-colonial, dando lugar a uma
abstracção classificatória, assente sobre vários valores genéticos e étnicos, na continuação da alegoria
exploratória das velhas ideias eugénicas, através das quais pensávamos ser possível encontrar soluções científicas
finais, capazes de resolverem os problemas das sociedades humanas.
Podemos entrar assim, numa espécie de “holocausto silencioso e continuo” onde abundarão soluções parciais e
sub-reptícias, entrelaçadas num infindável processo de massificação, que desresponsabiliza e aliena as
populações.
Quando olhado pela volatilidade das suas emanações visuais, numa combinação de música, movimento,
escultura e músculos, o corpo parece ainda capaz de se defender de todos os ataques aniquiladores. Precisamos
de aprender a resistir contra todos estes movimentos agressores que o desejam explorar e submeter na direcção
lucrativa do mercado, como já havia sido feito de um modo aterrador com a enorme devastação da natureza
levada a efeito no século XX. A resistência pode ser encarada como um ballet desafiador das ideologias da
gravidade, uma maneira diferente de alterar as funções naturais do corpo humano, agindo de forma criativa
sobre ele. Não se afasta o corpo da ideia de lucro para o salvar da vulgaridade dos usos e dos destinos a que nos
submetemos. Como no bailado, no qual os grandes bailarinos são aclamados pela capacidade de pairar no ponto
mais elevado dos seus saltos, cujo corpo parece quebrar por instantes todas as regras, temos de aprender a
movimentarmo-nos de forma livre sobre a nossa ligação à terra, libertando-nos da acção da sua gravidade. As
bailarinas deformam os pés e o corpo para conseguirem suster-se inumanamente nas pontas, reduzindo ao
mínimo absoluto o seu contacto com a terra. Sendo uma ascensão do corpo, o ballet é também um cerimonial
hierático, uma manifestação ritual de desdém pelo mundo vulgar e material que nos submete, sendo estas coisas
a fonte da sua autoridade estética e do seu encanto humanístico.
O corpo passou a ser um artefacto multimédia consumado, uma peça de estilo e superfície, misturado com
tecnologia nas suas origens ecléticas. Vivemos uma existência cada vez mais desenraizada, sob a performance
cinética e audiovisual digna dos grandiosos espectáculos musicais e das mega produções de Hollywood. Temos
um longo historial de destruição e de manipulação ideológica justificado pelas maiores atrocidades e os mais
incríveis ataques à integridade dos corpos. Com este passado tão duvidoso temos de estar muito cépticos sobre
todas as imagens apresentadas actualmente, as quais não pretendem outra coisa senão criar uma ilusão de
saúde e de bem-estar. Os corpos são neste sentido, espaços sociais culturalmente elaborados e extremamente
concorrenciais, ávidos de vitórias e de ganhos, nos quais podemos observar sinais complexos sobre as fantasias
humanas e as nossas tendências transgressoras. O corpo do homem é um enredo mortal, uma imaginação
cercada por desejos, como um pássaro filado pela serpente, incapaz de voar. O homem está acorrentado pelo
sexo e pela natureza, encalhado em formas de libertação que foram - como sempre - definidas em conformidade
com os direitos dos mais altamente colocados e dos mais poderosos. Faz parte dessa liberdade assim entendida, o
direito de decidir monologicamente sobre o que é «o melhor interesse» do outro e, evidentemente, quais os
interesses a sacrificar nas aras do bem-estar comum e da razão imparcial. Uma tal apetência para sermos
parciais e aceitarmos essa parcialidade como um mal necessário, faz de nós seres reduzidos a um estado de
impotência, presos a uma atitude desumana, passiva e dependente. O facto de o corpo ser hoje tolerado na sua
fealdade e deformidade, permitiu-nos dessacralizar a sua essência, projectando nele todos as formas de horror
sobre a mutabilidade humana. A possibilidade de cura e a necessidade dessa cura nos ser artificialmente
imposta, prepara-nos para aceitarmos no futuro todas as terapias, inseridas no sonho de uma sociedade
materialmente perfeita, numa sociedade purificada pela superação das fraquezas humanas.
Na obsessão da cura fixa-se na intensa busca da beleza perdida, realizada através do olhar, uma forma apolínea
de rectificar a vida do nosso corpo, nascido da pobre mãe/natureza. O belo no corpo é algo que se sente desta
forma despojada, desejando alcançar-se uma fisicalidade desprovida de todo o tipo de fisiologia. Como não
come, não bebe, nem se reproduz, o corpo transforma-se em algo de idealmente estético, representado na
desesperada tentativa de apartar da nossa imaginação a decadência da sua morte. Ao ser tratado como objecto
artístico, o corpo tende a tornar-se uma forma desprovida de significado humano, como acontecia na obra de
Gogol, “O Nariz”, através do qual se redime a sua incapacidade de libertação.
Deste lugar que é o nosso corpo não há hipótese de fuga. Estamos num mundo moralmente sério, autoritário e
reduzido a obediências biológicas cada vez mais científicas e mais artificiais. A brutalidade e a sordidez da
doença abrem caminho para outras formas de intervenção sobre o corpo, ajudando a quebrar o velho tabu
cristão da sua exposição. Ao reduzir-se os homens a meros corpos passageiros e pouco valiosos, instala-se uma
visão simplista sobre as pessoas observadas exclusivamente na sua dimensão física, secular e privada. Os homens
estão condenados a ter de gerir o seu medo neste conjunto difícil de situações. Posicionando-se numa relação
entre o interior e o exterior, ficamos obrigados a passar os limites. Ultrapassamos estes momentos difíceis,
aplicando mais ciência e mais especialização. Aumentam-se as habilidades ilusórias, pensando estar a ampliar
indefinidamente os nossos horizontes. Este risco não tem sido muitas vezes bem calculado e os desastres
ocorridos estão à vista. Há uma clara acumulação de erros e não devemos pensar em corrigir alguma coisa daqui
para a frente. Deleuze diz que até os animais em fuga fazem certas conquistas e, ao procederem assim, são
capazes de criar algum espaço, mesmo na fuga. Ao proceder desta forma o animal «apoia-se no seu meio íntimo
como em muletas frágeis». Se o homem continuar a afastar-se do corpo e não for capaz de alterar os seus modos
de vida, caminharemos para um espaço estranho e sem medida. Convém acrescentar o facto de existir uma maior
pressão sobre as nossas condicionantes existenciais, provocadas pela degradação do meio ambiente e, neste caso
o homem não vai ter a menor possibilidade de se apoiar na mais pequena coisa. A constatação de que o homem
da nossa época deixou de albergar uma confiança cósmica originária, reflecte o sinal mais distintivo da
modernidade, tanto no que se refere ao lado bom quanto ao mau das nossas vidas. As pessoas continuam, no
retiro da vivência privada, a adoptar fórmulas de autenticidade particular, propaladas por uma nova indústria
cultural. Contra este tipo de concepção temos sair do esquema de mercantilização intensiva e da alienação
generalizada que nos persegue, inventando uma nova maneira de viver. Quando procuramos preservar a esfera
íntima e autenticidade da nossa vida, contra as investidas das trocas públicas alienadas, é a própria vida privada
que se torna também uma esfera totalmente instrumentalizada, objectivada e mercantalizada.
O universo é algo muito diferente de um contentor. Nunca poderemos considerá-lo espaço habitável, pelo menos
nos próximos mil anos. Esse espaço infinito será para nós o inferno vazio, o inferno gélido, escaldante e limitado.
Somos permanentemente confrontados com esse elemento hostil à vida transformado na quintessência do terror
e da inospitalidade. O terceiro milénio, se ainda existirmos, vai ser uma época atmosférica e da técnica dos
contentores integrais. A estação espacial será a metáfora-chave da arquitectura social da era do porvir. Até lá
teremos de viver neste desterro terrestre - uma prisão que transforma o homem num libertino de si próprio e
reduz o seu corpo/personagem a um indivíduo excêntrico, no condutor do seu corpo, numa estrutura cada vez
mais desregulada pela incapacidade de sair do planeta. Quando não podemos existir fora de um sistema no qual
se está inserido, somos todos cúmplices e dedicados construtores de uma soberba pulverização das formas de
identidade, na procura desenfreada de paz, na busca de uma vitória definitiva sobre as nossas imaginações. O
pensamento foi afastado pelo aviltante, repulsivo e insignificante modo de vida das sociedades enclausuradas. A
crescente violência irracional das nossas sociedades deve ser concebida como algo estritamente correlativo à
despolitização e à acumulação intensiva de objectos das nossas comunidades. O corpo é neste contexto, um
espaço sujeito a políticas de destruição e de contingência, indefinido nos seus contornos mais formais. Rasgar,
arranhar, arrancar, mutilar, cortar, retalhar, queimar, derreter, são processos que reduzem o corpo à sua
matéria-prima primordial, atirando-o de novo para as profundezas da sua natureza.
O corpo continuará a ser explorado como espaço de oportunidades, situação indicativa do reconhecimento
explícito da primazia da economia sobre a democracia. A ideia de uma democracia honesta é uma ilusão. A
ordem política democrática revelou a sua susceptível natureza de ser corrompida. A escolha tem de ser clara: ou
aceitamos essa realidade dentro de um espírito compreensivo, assente numa sabedoria resignada e realista, ou
reunimos coragem e reformulamos uma alternativa capaz de nos libertar desse peso. Enquanto permanecermos
neste estado de ilusão, o corpo será uma totalidade anti-social, desconsiderado e brutalmente sujeito a todas as
formas limite de dispêndio de energia. O volume corpóreo planetário e globalizado poderá ser objecto de uma
política de deslocação em massa e de uma economia estruturada por práticas exploradoras e especulativas de
uma avidez derradeira - um processo produtivo fatal para o próprio homem. A globalização actual é uma
consequência desse movimento voraz do capital especulativo que, sob a forma de notícias, gira à volta da Terra, à
velocidade da luz. A destruição do espaço e as novas conotações ameaçadoras daqui surgidas, fazem da
globalização um momento de absoluta imposição do tempo, sem a mais pequena resistência do espaço que foi
sendo progressivamente retirado e destruído, seguindo uma lógica determinada pela necessidade de se ganhar
dinheiro rápido, através da rápida circulação de informação.